“Estamos falhando em manter nossos pesquisadores aqui”, afirma epidemiologista Cesar Victora

Com pesquisas de impacto na amamentação e na nutrição materno-infantil, o médico gaúcho é um dos cientistas brasileiros mais reconhecidos internacionalmente. Em 2017, ganhou o Prêmio Gairdner, o “Nobel da epidemiologia” Daniela Xu / Divulgação
Médico gaúcho, que é professor emérito da UFPel, avalia que burocracia e falta de incentivos dificultam o desenvolvimento da ciência no Brasil e atraem os melhores alunos para outros países
Professor emérito da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Cesar Gomes Victora tem coordenado a avaliação da saúde de quase 20 mil pessoas, desde seus primeiros anos de vida, no município de 344 mil habitantes onde ele vive, em um trabalho que começou há quase quatro décadas. Essas pesquisas se refletiram em recomendações, especialmente sobre amamentação e nutrição da mãe e do bebê, que hoje são adotadas na maior parte do mundo para prevenir a mortalidade infantil. Natural de São Gabriel, na Fronteira Oeste, o epidemiologista, atualmente aposentado, segue trabalhando e ocupa posições honorárias nas universidades de Oxford (Reino Unido), Harvard e Johns Hopkins (EUA). Nesta entrevista, ele avalia o impacto dos seus estudos e comemora o avanço da ciência no Brasil, mas lamenta a falta de incentivos.
Você participou de estudos que definiram as curvas de crescimento infantil, aquelas que mostram o padrão de normalidade de desenvolvimento da criança, referendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e hoje usadas em cerca de 150 países. O que representa, para um cientista, ter pesquisas que influenciaram políticas de saúde pública adotadas internacionalmente?
Quando comecei a carreira como pesquisador, em 1977, não tinha a esperança de que um dia contribuiria para políticas globais. Foi um trabalho progressivo. Começamos a abordar questões que são importantes para todos, como amamentação, crescimento das crianças. Isso foi evoluindo.
Qual contribuição o senhor considera a mais importante?
Acho que foi nossa descoberta, lá nos anos 1980, de que era muito importante a amamentação exclusiva: que a criança, até os seis meses, recebesse apenas leite materno, sem água, nem chá, nem suco, nem outro leite ou outra comida. Naquela época, a prática comum era suplementar a dieta das crianças, pois se achava que o leite materno não era suficiente. Nossos estudos mostraram que a criança que recebia outros líquidos e alimentos tinha um nível de mortalidade maior. Foi uma das pesquisas que levaram, a partir de 1991, a OMS e o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância, na sigla em inglês) a recomendar no mundo inteiro a amamentação exclusiva.
E qual contribuição é motivo de mais orgulho?
Eu coloco três coisas. Primeiro, essas pesquisas sobre o aleitamento exclusivo. Em segundo lugar, os estudos que mostraram como a nutrição e tudo o que acontece nos primeiros mil dias (a soma dos nove meses da gestação com os dois primeiros aniversários), seja a amamentação, a assistência médica adequada, o estímulo intelectual da criança pequena, tudo reflete em ganhos que persistem até a idade adulta. E a terceira foram as curvas de crescimento infantil: somos parte de um grupo de seis países que defendiam a ideia de que as curvas que estavam sendo usadas até o ano 2000 eram baseadas em crianças norte-americanas que recebiam leite em pó. E isso não refletia o crescimento ideal da espécie humana, que é baseado na amamentação.

O pesquisador no Camboja, em 2003: descobertas na área de crescimento infantil se tornaram referência
Cesar Victora / Arquivo pessoal
Com as oportunidades que você teve de se vincular a uma universidade internacional, por que continuar no Brasil? E por que na UFPel?
Já tive vários convites, mas quero ficar no meu país. Sempre senti vontade de trabalhar com a minha população. A isso se une o fato de que eu queria continuar o trabalho que começamos em Pelotas. Em muitas áreas da ciência, a questão de ter um laboratório complexo é essencial. Meu filho, mesmo (Gabriel Victora, pesquisador na Universidade Rockefeller, nos EUA), é imunologista, e a pesquisa que faz em Nova York ele não conseguiria fazer no Brasil. Mas tem uma coisa: para um epidemiologista, o laboratório é a população. E Pelotas tem uma população muito boa de trabalhar: a cidade nos recebe bem, praticamente ninguém se recusa a ser entrevistado, tirar sangue, fazer os exames. Eu poderia também ter ido para a Universidade de São Paulo (USP) ou outros lugares dentro do Brasil. Tive convites. Mas aqui (em Pelotas) achei que eu tinha uma situação boa.
Em 2017, você recebeu no Canadá o Prêmio Gairdner, considerado um “pré-Nobel” na área da saúde. A possibilidade de ganhar um Nobel passa pela sua cabeça?
Não me preocupo com isso, porque nunca vou ganhar (risos). O último epidemiologista a ganhar o Nobel, Ronald Ross, que descobriu que um mosquito transmitia a malária, o fez em 1902. Os grandes epidemiologistas do mundo, que descobriram que o fumo causa câncer, ou que o colesterol alto causa doenças cardiovasculares, nenhum deles ganhou. O Nobel é, na verdade, um prêmio para a ciência básica (que se diferencia da ciência aplicada, voltada à solução de problemas práticos). Mas eu fico muito contente, porque o Gairdner é o Nobel da epidemiologia, da saúde global. Para mim, já está mais que bom.
A pesquisa no Brasil tem sofrido com sucessivos cortes no orçamento, o que levou órgãos como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de Ciências (ABC) a participarem de campanhas cobrando a valorização da ciência. Como esses cortes e a crise econômica têm afetado as pesquisas?
Passamos por uma crise muito grande. Sou da ABC, e temos uma campanha enorme tendo em vista os cortes de bolsas, entre outros. Vamos pegar, por exemplo, um aluno que quer fazer doutorado: para aproveitar integralmente, ele precisa ter dedicação exclusiva. Não pode ter um emprego, não pode fazer plantão à noite. Nós temos uma bolsa, do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) ou da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), e antigamente sobravam bolsas (no Programa de Pós-graduação em Epidemiologia da UFPel). Agora, estão faltando. Vários alunos bons, que poderiam se dedicar integralmente ao seu doutorado, não conseguem mais porque têm de ganhar dinheiro de alguma maneira. Esse corte foi impressionante. Há quatro ou cinco anos, era bem mais fácil fazer pesquisa do que agora.
Diante das dificuldades, como o senhor avalia a ciência no país hoje?
O Brasil progrediu muito em termos de ciência. O número de publicações aumentou bastante nos últimos 20 anos, assim como a produtividade. Mas acho que temos ainda problemas de qualidade. Temos dificuldade em publicar em revistas de alto impacto. Sempre há exceções, mas, na média, o cientista brasileiro tem nível de qualidade, de impacto das publicações, bastante inferior aos cientistas americanos, canadenses, ingleses, até chineses — a China é um país que está tendo um desenvolvimento enorme na ciência, com grandes investimentos.
Quando se pensa em investimento na ciência, às vezes surgem críticas: há quem defenda que é mais urgente garantir recursos para educação e saúde. Por que é importante para o país investir na pesquisa?
Tem dois aspectos: primeiro, se a gente investe em pesquisa, a educação melhora, a saúde melhora. Porque teremos medicamentos, vacinas, estratégias preventivas melhores e adaptadas à nossa realidade local. Nem tudo o que vem de fora vai funcionar bem no Brasil, principalmente em termos de saúde pública. O que se faz para incentivar a amamentação nos EUA é diferente do que se tem que fazer para incentivar a amamentação no Brasil: é preciso contextualizar a pesquisa.
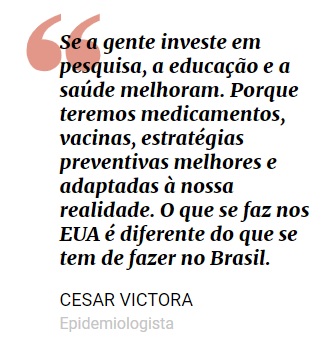
Outro aspecto é a parte da inovação e da tecnologia, principalmente nas áreas básicas, como física e química. A agronomia é um exemplo excepcional para o Brasil. É o melhor exemplo que nós temos porque o governo criou a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), que é uma série de centros de pesquisa. O que move a economia brasileira é o agronegócio, que tem um amplo uso de tecnologia contextualizada: o que se faz para plantar soja, pêssego, uva no Brasil tem de ser adequado à nossa realidade local. E a Embrapa fez isso. Os dois grandes exemplos da pesquisa brasileira são a Embrapa e a Embraer, que criam e geram tecnologia. Vamos pensar assim, voltando no tempo para a década de 1950. O Brasil era um país pobre, não tinha guerra. A Coreia do Sul era um país destruído. E, mesmo assim, investiu em ciência e tecnologia pesadamente. E olha onde está hoje em comparação com o Brasil. Andamos de carro coreano, temos televisão coreana, meu celular é coreano. Não se tem inovação, nem tecnologia, sem ciência. E a ciência às vezes não dá resultado de hoje para amanhã: demora uma década ou duas. Mas, quando o país cria uma infraestrutura científica, consegue inovar, e a sua indústria consegue ser competitiva globalmente.
Falta ao Brasil uma política que defina investimentos fixos para a pesquisa e que não varie conforme o governo?
Infelizmente, o Brasil tem isso: quando muda o governo, muda o ministro, mudam três ou quatro níveis em cada ministério. Nosso presidente atual uniu o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o de Comunicações, o que não tem nada a ver. A ciência, infelizmente, não é prioridade. O que se observa em outros países: há entidades como a Embrapa para medicina e saúde, por exemplo. Nos EUA, é o NIH (National Institutes of Health): uma megaorganização que tem laboratórios, que faz pesquisa e financia outros grupos. Na Inglaterra, é o MRC (Medical Research Council), que também tem seu censo, que financia pesquisa.

Cesar Victora / Arquivo pessoal O pesquisador participa de um inquérito sobre saúde da criança em Níger, em 2005 Cesar Victora / Arquivo pessoal
Quais são as maiores frustrações de um pesquisador no Brasil?
A palavra-chave é burocracia. Em primeiro lugar, na verdade, vem a falta de recursos: não há recursos absolutos, então é preciso dividir o que se tem em grandes grupos. Eu peço para o CNPq uma verba de R$ 1 milhão para uma pesquisa e, como ele precisa atender muita gente, me responde: “Eu aprovo sua pesquisa, mas só há R$ 200 mil”. Aí vem a burocracia, que começa com a papelada para prestar contas de uma verba. Tenho várias verbas internacionais, e uma agência internacional parte do pressuposto de que um pesquisador é honesto e vai fazer tudo certo. Já a agência nacional parte do pressuposto de que você está tentando ser desonesto. É preciso contratar gente para lidar com a burocracia em vez de contratar pesquisador. É desproporcional. Recebi uma verba, agora, de R$ 40 mil para fazer um estudo pequeno, e me arrependi amargamente. Porque está dando tanto trabalho para gastar… E ainda fico pensando que daqui a pouco posso ser acionado judicialmente porque não guardei todos os recibos.
Parece desanimador.
E a burocracia se manifesta também no que falei antes, sobre por que meu filho está nos EUA e não no Brasil: a dificuldade de importação. A ciência é global. Já houve iniciativas diferentes, como o Importa Fácil Ciência, do CNPq — que o pessoal chamava de Importa Difícil. Eu já tive equipamentos que ficaram presos na alfândega por meses e acabaram estragando porque não foi preenchido um certo documento antes de chegar ao Brasil. Mandar um DNA para o Exterior é uma dificuldade enorme. Importar ou exportar material biológico idem. Para uma pesquisa, nós tivemos que importar um aparelho de ultrassom obstétrico que ficou preso meses e meses na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), porque era um aparelho que não tinha registro no Brasil. Mesmo sendo um único aparelho, que não é para ser usado em clínica. A pesquisa, que era multicêntrica, com vários países, atrasou. Demorou oito meses. Todo mundo terminou, e a gente não tinha começado ainda, porque nosso ultrassom estava preso. E esse aparelho quem nos financiou foi a Fundação Bill Gates. Veio do Exterior, não teve nenhum custo para o Brasil, só tinha que chegar aqui e ser usado. Isso cansa.
Diante desse cenário, é possível evitar a fuga de cérebros do Brasil?
Essa é uma questão muito, muito triste. É uma das coisas que mais me chateiam. Os nossos melhores alunos estão indo para Austrália, Canadá, Inglaterra, EUA. Fazem aqui a graduação, o mestrado, o doutorado, muitas vezes ganham uma bolsa para passar um tempo no Exterior, como em um doutorado-sanduíche, e acabam atraídos para lá. Gastamos com eles e depois os perdemos. Nós (da Epidemiologia na UFPel), nos últimos dois anos, perdemos meia dúzia de alunos brilhantes cuja formação foi toda paga pelo contribuinte brasileiro. Você não pode culpar o pesquisador. Mas é preciso ter uma compensação. Se o Neymar vai para o Barcelona, ou para o PSG, o Santos ganha. Na hora que eu exporto um doutor pronto, que estudou sempre no Brasil, com verba do contribuinte brasileiro, será que os outros países não tinham que nos dar uma compensação? Acho que é uma questão diplomática, que teria de ser equacionada nesse nível. Mas, independentemente disso, é uma grande pena. Estamos falhando em manter nossos pesquisadores aqui.
No Brasil, o professor precisa dar não sei quantas horas de aula na graduação. Mesmo sendo pós-doutor e não sendo bom professor. É melhor o aluno de Medicina ser ensinado por um bom clínico.
CESAR VICTORA
Epidemiologista
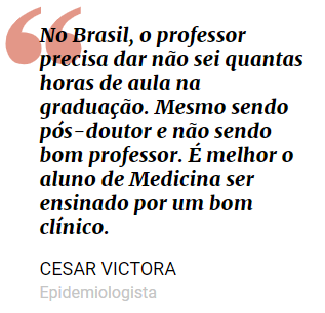 A característica brasileira, especialmente na universidade pública, de exigir que um professor não faça só pesquisa, mas também dê aulas, tem impacto nisso?
A característica brasileira, especialmente na universidade pública, de exigir que um professor não faça só pesquisa, mas também dê aulas, tem impacto nisso?
É algo a que eu me oponho há muito tempo. Acho que tem gente que é boa de dar aula e tem gente que é boa de fazer pesquisa. Nos EUA, meu filho é só pesquisador, ele não dá aula. O pessoal daqui diz: “Ah, não, mas o professor tem que disseminar seu conhecimento para os alunos”. Não precisa. A universidade tem que fazer pesquisa, ensino e extensão. E cada professor, individualmente, não precisa fazer as três coisas. Uma das questões que me levaram à aposentadoria foi que o professor precisa dar não sei quantas horas de aula por dia na graduação. Mesmo sendo pós-doutor e não sendo, às vezes, um bom professor. O que um aluno de graduação da Medicina quer aprender? A ser um bom médico, a tratar os pacientes. O que um pesquisador de ponta pode oferecer para esse aluno é muito pouco. É melhor ele ser ensinado por um bom clínico. E o bom clínico não precisa fazer pesquisa. Então é uma certa ideologia com a qual não concordo. E no mundo inteiro não é assim.
Por que, mesmo aposentado, você continua trabalhando?
A pesquisa é uma paixão. Além disso, resulta em mudanças práticas. Nós criamos as curvas de crescimento a partir de 1997, o estudo terminou em 2002 e, em 2006, a OMS divulgou para o mundo inteiro, os países começaram a usar. Tem continuidade. Para mim isso é muito importante, eu não consigo parar no meio desse processo. Se eu parasse hoje, já estaria satisfeito. Mas ainda acho que posso fazer mais.
Fonte: GZH

